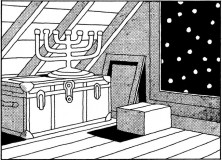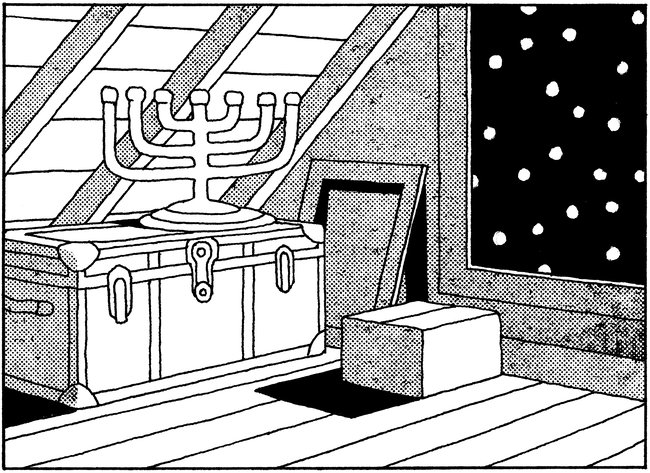É o momento mais religioso do ano. Pode-se ver em qualquer cidade nos Estados Unidos ou na Inglaterra o céu iluminado por sÃmbolos religiosos, decorações de Natal, e provavelmente também uma menorah gigante. A religião no Ocidente parece estar viva e bem.
Mas é isso mesmo? Ou estes sÃmbolos foram esvaziados de conteúdo, e tornaram-se nada mais do que um pano de fundo brilhante para a mais nova fé do Ocidente, o consumismo, sendo suas catedrais seculares os shoppings?
À primeira vista, a religião parece estar em declÃnio. Na Grã-Bretanha, acaba de ser publicado os resultados do censo nacional de 2011. Mostram que um quarto da população afirma não ter religião, quase o dobro de uma década atrás. E, embora os Estados Unidos continue sendo o paÃs mais religioso do Ocidente, 20 por cento declaram-se sem filiação religiosa – o dobro do número de uma geração atrás.
Porém, olhando sob outra perspectiva, os números contam uma história diferente. Desde o século 18, muitos intelectuais ocidentais previram o fim iminente da religião. No entanto, e mais recentemente, após uma série de ataques devastadores pelos novos ateus, incluindo Sam Harris, Richard Dawkins e o finado Christopher Hitchens, ainda na Grã-Bretanha três em cada quatro pessoas, e na América quatro em cada cinco, declaram lealdade a uma fé religiosa. O que, em uma era de ciência, é verdadeiramente surpreendente.
A ironia é que muitos dos novos ateus são seguidores de Charles Darwin. Nós somos o que somos, dizem eles, porque nos permitiram sobreviver e transmitir nossos genes para a próxima geração. A nossa composição biológica e cultural constitui a nossa “aptidão adaptativa.” No entanto, a maior sobrevivente de todas elas é a religião. As superpotências tendem a durar séculos, porém as grandes religiões perduram por milênios. A questão é por quê?
O próprio Darwin sugeriu qual seria a resposta correta. Ele estava intrigado com um fenômeno que parecia contradizer a sua tese mais básica, que a seleção natural deveria favorecer os mais aptos. AltruÃstas, que arriscam suas vidas em beneficio de outros, deveriam, portanto, geralmente morrer antes de passarem seus genes para a próxima geração. No entanto, todas as sociedades valorizam o altruÃsmo, e algo semelhante pode ser encontrado entre os animais sociais, como os chimpanzés, golfinhos e formigas.
Os neurocientistas têm mostrado como isso funciona. Temos os neurônios-espelho que nos fazem sentir dor quando vemos outros sofrendo. Estamos programados para sentir empatia. Somos animais morais.
As implicações precisas desta resposta de Darwin ainda estão sendo debatidas pelos seus discÃpulos – E. O. Wilson de Harvard, por um lado e Richard Dawkins de Oxford por outro. Para colocar em uma forma mais simples, transmitimos nossos genes como indivÃduos, mas sobrevivemos como membros de grupos, e os grupos só podem existir quando os indivÃduos não agem somente em benefÃcio próprio, mas para o bem do grupo como um todo. Nossa única vantagem é que formamos grupos maiores e mais complexos do que qualquer outra forma de vida.
Como resultado é que temos dois padrões de reação no cérebro, um foca os perigos potenciais para nós, como indivÃduos, e o outro, localizado no córtex pré-frontal, tem uma visão mais ponderada das conseqüências de nosso s atos, para nós e para os outros. A primeira é imediata, instintiva e emotiva. A segunda é reflexiva e racional. Estamos presos, na frase do psicólogo Daniel Kahneman, entre o pensar rápido e o lento.
O caminho rápido nos ajuda a sobreviver, mas também pode nos conduzir para atos que são impulsivos e destrutivos. O mais lento conduz a um comportamento mais ponderado, mas muitas vezes é sobrepujado pelo calor do momento. Nós somos pecadores e santos, egoÃstas e altruÃstas, exatamente como os profetas e filósofos têm afirmado por muito tempo.
Se assim é, então estamos em condições de compreender porque a religião nos ajudou a sobreviver no passado – e porque vamos precisar dela no futuro. Ela fortalece e acelera o caminho lento. Ela reconfigura os nossos caminhos neurais, transformando o altruÃsmo em instinto, através dos rituais que realizamos, os textos que lemos e as orações que fazemos. Continua a ser o mais poderoso construtor de comunidades que o mundo já conheceu. A religião une os indivÃduos em grupos através de hábitos de altruÃsmo, a criação de relações de confiança fortes o suficiente para derrotar as emoções destrutivas. Longe de negar a religião, os neodarwinistas têm nos ajudado a entender por que isso é importante.
Ninguém mostrou isso de forma mais elegante do que o cientista polÃtico Robert D. Putnam. Na década de 1990 ele tornou-se famoso pela frase “Bowling Alone (Jogando Boliche Sozinho, em tradução livre)”: mais pessoas estão jogando boliche, mas menos formam equipes de boliche. O individualismo foi destruindo lentamente a nossa capacidade de formar grupos. Uma década mais tarde, em seu livro “American Grace”, ele mostrou que havia um lugar onde o capital social ainda podia ser encontrado: nas comunidades religiosas.
A pesquisa do Sr. Putnam mostrou que os que iam a igrejas ou sinagogas frequentemente eram mais propensos a dar dinheiro para a caridade, fazerem trabalho voluntário, ajudar os desabrigados, doarem sangue, ajudarem um vizinho, fazer companhia para alguém que estivesse se sentindo deprimido, oferecer o seu lugar para um desconhecido ou ajudar alguém a encontrar um emprego. A religiosidade, medida através da freqüência à igreja ou sinagoga, ele verificou, era um preditor melhor do altruÃsmo do que a educação, idade, renda, sexo ou raça.
A religião é o melhor antÃdoto para o individualismo nesta era do consumismo. A ideia de que a sociedade poderia viver sem ela é negada pela história e, agora, pela biologia evolutiva. Isso pode mostrar que D ’us tem senso de humor. Certamente mostra que as sociedades livres ocidentais não devem nunca perder o significado de D’us.
__________________________________________________________
Jonathan Sacks é rabino-chefe das Congregações Hebraicas Unidas da Comunidade Britânica.
Publicado originalmente no NYT, em 23 dez 12. Veja aqui.
Tradução J. Christof